    |
|---|
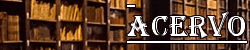   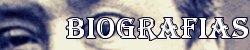    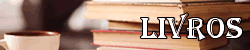    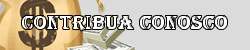  |
Categoria: Acervo INTRODUÇÃO Uma área da teologia cristã freqüentemente desprezada ou tomada por certa é a doutrina da Igreja. Tal descuido deve-se, em parte, à suposição comum de que algumas áreas do estudo teológico são mais essenciais para a salvação e a vida cristã, como por exemplo as doutrinas de Cristo e da salvação, ao passo que outras tão realmente mais emocionantes, como as manifestações do Espírito Santo ou a doutrina das últimas coisas. A Igreja, por outro lado, é assunto que muitos cristãos consideram conhecido. Afinal de contas, tem sido parte regular de sua vida. Que proveito haveria no estudo extensivo de algo tão comum e rotineiro na experiência da maioria dos crentes? A resposta, logicamente, é: bastante. As Escrituras, juntamente com a história do desenvolvimento e expansão do Cristianismo, oferecem uma riqueza de introspecções à natureza e propósito da Igreja. Adquirir melhor conhecimento teológico sobre a Igreja não é somente um exercício acadêmico digno de nossa atenção. Torna-se essencial para obtermos uma perspectiva correta da teologia que deve ser aplicada à vida diária. A Igreja foi projetada e criada por Deus. É a sua maneira de prover alimento espiritual para o crente e oferecer uma comunidade de fé através da qual o Evangelho é proclamado e a sua vontade progride a cada geração. Logo, a doutrina da Igreja trata de questões de importância fundamental para o nosso comportamento cristão individual e a correta compreensão da dimensão corpórea da vida e ministério cristãos. ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DA IGREA Definição de Igreja A Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, também emprega ekklêsia quase cem vezes, usualmente como tradução do termo hebraico qahal (“assembléia”, “convocação”, “congregação”). No Antigo Testamento, assim como no Novo, o termo às vezes se refere a uma assembléia religiosa (por exemplo, Nm 16.3; Dt 9.10) e em outras ocasiões a uma reunião visando propósitos seculares, até mesmo malignos (Gn 49.6; Jz 20.2; 1 Rs 12.3 etc). Uma palavra hebraica com significado semelhante a qahal é ´edah (“congregação”, “assembléia”, “agrupamento”, “reunião”). É de revelância notar que ekklêsia é freqüentemente traduzida por sunagõgê (“sinagoga”). Por exemplo: a frase “comunidade de Israel” (Êx 12.3) podia ser traduzida por “sinagoga de Israel” se seguíssemos a versão da Septuaginta (ver também Êx 16.1ss; Nm 14.1ss; 20.1ss). A palavra grega sunagõgê, assim como seu equivalente hebraico, ´edah, tem o significado essencial de pessoas reunidas. Hoje, quando escutamos a palavra “sinagoga”, usualmente temos o retrato mental de uma assembléia de judeus reunidos para orar e escutar a leitura e exposição do Antigo Testamento. Significado semelhante também se acha no Novo Testamento (Lc 12.11; At 13.42 etc). E, embora os cristãos primitivos costumassem evitar a palavra para descrever a eles mesmos, Tiago não a evita ao (Tg 2.2) referir-se aos crentes que se reuniam para adorar, talvez por serem os seus leitores convertidos judaicos, na sua maioria. Como conseqüência, quer nos refiramos aos termos hebraicos comuns qahal e ´edah, quer às palavras gregas sunagõgê e ekklêsia, o significado essencial continua sendo o mesmo: a “Igreja” consiste naqueles que foram chamados para fora do mundo, do pecado e da vida alienada de Deus, os quais, mediante a obra de Cristo na sua redenção, foram reunidos como uma comunidade de fé que compartilha das bênçãos e responsabilidades de servir ao Senhor. A palavra grega kuriakos (“pertencente ao Senhor”), que aparece apenas duas vezes no Novo Testamento (1 Co 11.20; Ap 1.10) deu origem à palavra Church – “igreja”, em inglês (também Kirche, em alemão, e kirk, na Escócia). No cristianismo primitivo, tinha o significado de lugar onde se reunia a ekklêsia, a Igreja. O local da assembléia, independente do seu uso ou ambiente, era considerado “santo” ou pertencente ao Senhor, porque o povo de Deus se reunia ali para adorá-lo e servi-lo. Hoje, “igreja” comporta vários significados. Refere-se freqüentemente ao prédio onde os crentes se reúnem (por exemplo: “Estamos indo à igreja”). Pode indicar a nossa comunhão local ou denominação (“Minha igreja ensina o batismo por imersão”) ou um grupo religioso regional ou nacional (“a igreja da Inglaterra”). A palavra é empregada freqüentemente com referência a todos os crentes nascidos de novo, independentemente de suas diferenças geográficas e culturais (“a Igreja do Senhor Jesus Cristo”). Mas seja como for, o significado bíblico de “igreja” refere-se primariamente não às instituições e culturas, mas sim às pessoas reconciliadas com Deus mediante a obra salvífica de Cristo e que agora pertencem a Ele. Possíveis Origens A maioria dos estudiosos, quer sejam seus antecedentes pentecostais, evangélicos ou modernistas, acreditam que as evidências bíblicas são favoráveis ao dia de Pentecostes, em Atos 2, para a inauguração da Igreja. Alguns, no entanto, reconhecem que a morte de Cristo efetivou a nova aliança (Hb 9.15,16). Por isso, entendem ser João 20.21-23 a inauguração da Igreja, como incorporação à nova aliança (cf. João 20.29, que demonstra já serem crentes os discípulos – já estavam dentro da Igreja antes de serem revestidos de poder pelo batismo no Espírito Santo). Várias são as razões para crermos que a Igreja teve sua origem ou pelo menos foi publicamente reconhecida pela primeira vez no dia de Pentecostes. Embora na era pré-cristã Deus certamente se associasse a uma comunidade pactual de fiéis, não há evidências claras de que o conceito de Igreja existisse no período do Antigo Testamento. Ao citar expressamente ekklêsia pela primeira vez (Mt 16.18), Jesus falava de algo que iniciaria no futuro (“edificarei” [gr. oikodomêsõ] é um verbo no futuro simples, não uma expressão de disposição ou determinação). Na condição de corpo de Cristo, é natural que a Igreja dependa integralmente da obra concluída por Ele na Terra (sua morte, ressurreição e ascensão) e da vinda do Espírito Santo (Jo 16.7; At 20.28; 1 Co 12.13). Millard J. Erickson observa que Lucas não emprega ekklêsia no seu evangelho, mas a palavra aparece 24 vezes em Atos dos Apóstolos. Este fato sugere que Lucas não tinha nenhum conceito da presença da Igreja antes do período abrangido em Atos. Imediatamente após aquele grande dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes reunidos, a Igreja começou a propagar poderosamente o Evangelho, conforme fora predito pelo Senhor ressurreto em Atos 1.8. A partir daquele dia, a Igreja continuou a propagar-se e a aumentar no mundo inteiro, mediante o poder e orientação daquele mesmo Espírito. Um Breve Histórico Durante a era patrística (o período antigo dos pais da Igreja e dos apologistas da fé), a Igreja experimentou dificuldades externas e internas. Externamente, sofria perseguições severas pelo Império Romano, especialmente durante os trezentos anos iniciais. Ao mesmo tempo, dentro da Igreja desenvolviam-se numerosas heresias, que ao longo prazo revelaram-se mais desastrosas que as perseguições. A Igreja, pela graça soberana de Deus, sobreviveu a esses tempos árduos e continuou crescendo, mas não sem algumas mudanças de conseqüências negativas. No esforço para manter a união, a fim de melhor resistir as devassas causadas pelas perseguições e heresias, a Igreja cada vez mais cerrava fileiras com os seus líderes, elevando a autoridade destes. Especialmente depois de conseguirem a paz e harmonia política com o governo romano do século IV, a hierarquia religiosa foi subindo de categoria. À medida que era aumentada a autoridade e o controle dos clérigos (especialmente dos bispos), diminuía a importância e a participação dos leigos. Dessa maneira, a Igreja se tornava cada vez mais institucionalizada e menos dependente do poder e orientação do Espírito Santo. O poder do bispo de Roma e da igreja sob o seu controle foi crescendo, de modo que, próximo do fim da Era Antiga, a posição do papa e a autoridade da organização, que começava a ser chamada Igreja Católica Romana, se solidificaram na Europa Ocidental. A Igreja ocidental, no entanto, separou-se e permaneceu sob a direção de bispos chamados “patriarcas”. Na Idade Média, a Igreja continuava seguindo em direção à formalidade e ao institucionalismo. O papado procurava exercer sua autoridade, não somente em questões espirituais mas também nos assuntos temporais. Muitos papas e bispos tentaram “espiritualizar” esse período da história, no qual imaginavam o Reino de Deus (ou a Igreja Católica Romana) espalhando sua influência e regulamentos por toda a Terra. Tal atitude resultou numa tensão constante entre os governantes seculares e os papas pela manutenção do controle. Não obstante, com poucas exceções, o papado mantinha a supremacia em quase todas as áreas da vida. É certo que nem todos aceitaram a crescente secularização da Igreja e sua aspiração de cristianizar o mundo. Houve algumas tentativas notáveis de reformar a Igreja, na Idade Média, e de recolocá-la no caminho da verdadeira espiritualidade. Vários movimentos monásticos (por exemplo, os cluníacos do século X e os franciscanos do século XIII) e até mesmo leigos (os albigenses e os valdenses, ambos do século XII) fizeram esforços nesse sentido. Figuras de destaque, como os místicos Bernardo de Carival (século XII) e Catarina de Siena (século XIV) e clérigos católicos, como John Wycliffe (século XIV) e João Hus (final do século XIV, início do século XV) procuravam livrar a Igreja Católica de seus vícios e corrupção e devolvê-la aos padrões e princípios da Igreja do Novo Testamento. A Igreja de Roma, no entanto, rejeitava de modo geral essas tentativas de reforma. Ao contrário, tornava-se cada mais endurecida na doutrina e institucionalizada na tradição. Semelhante atitude tornou quase inevitável a Reforma Protestante. No século XVI, surgiram grandes reformadores que tomaram a dianteira na revolução da Igreja: Martinho Lutero, Ulrich Zuínglio, João Calvino e João Knox, entre outros. Juntamente com seus seguidores, compartilhavam de muitas das mesmas idéias dos reformadores que os antecederam. Entendiam que Cristo, e não o papa, era o verdadeiro cabeça da Igreja; as Escrituras, e não a tradição da Igreja, eram a verdadeira base da autoridade espiritual; e a fé somente, e não as obras, era essencial para a salvação. A Renascença ajudara a preparar o caminho para a introdução e aceitação dessas idéias, que haviam sido plenamente aceitas na Igreja do século I mas que agora pareciam radicais, na Igreja do século XVI. Os reformadores tinham opiniões diferentes entre si no tocante a muitas das doutrinas e práticas específicas do Cristianismo, como as ordenanças e o governo da Igreja, conforme estudaremos em seções posteriores deste capítulo. Mas todos eles tinham em comum uma paixão pela volta à fé e prática bíblicas. Nos séculos depois da Reforma (ou era da pós-Reforma), os indivíduos e as organizações têm seguido direções a mais variadas na tentativa de aplicar sua interpretação do cristianismo neotestamentário. Infelizmente, alguns têm repetido erros do passado, enfatizando os rituais e o formalismo da Igreja institucional, às custas da ênfase que a Bíblia dá à salvação pela graça mediante a fé e à vida no Espírito. O racionalismo do século XVIII ajudou a montar o palco para muitos dos ensinos modernistas e às vezes anti-sobrenaturais dos séculos XIX e XX. Louis Berkhof declara muito acertadamente que semelhantes movimentos têm levado “ao conceito liberal moderno de Igreja como um mero centro social, uma instituição humana, ao invés de plantio de Deus”. De uma perspectiva mais positiva, no entanto, a era pós-Reforma também tem presenciado reações contra essas tendências sufocantes e liberalizantes. As reações surgiram de movimentos que têm ansiado por uma experiência genuína com Deus, e a têm recebido. O movimento pietista (século XVII), os movimentos morávio e metodista (século XVIII) e os grandes despertamentos, o movimento da Santidade e o movimento Pentecostal (séculos XVIII – XX), todos são indícios de que a Igreja fundada por Jesus Cristo (cf. Mt 16.18) ainda está com vida e saúde, e que continuará a progredir até sua segunda vinda. A NATUREZA DA IGREJA Termos Bíblicos Aplicados à Igreja Povo de Deus. O apóstolo Paulo aproveita a descrição de Israel no Antigo Testamento, aplicando-a à Igreja do Novo Testamento quando declara: “Como Deus disse: Neles habitarei e entre eles andarei; e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo” (2 Co 6.16; cf. Lv 26.12). Por toda a Bíblia a Igreja é retratada como o povo de Deus. Assim como no Antigo Testamento Deus criou Israel a fim de ser um povo para si mesmo, também a Igreja no Novo Testamento é criação de Deus, “o povo adquirido” por Ele (1 Pe 2.9,10; c. Dt 10.15; Os 1.10). Desde o começo da Igreja e no decurso de sua história, fica evidente que o destino da Igreja está alicerçado na iniciativa e vocação divinas. Conforme Robert L. Saucy, a Igreja é “um povo chamado para fora por Deus, incorporado em Cristo e habitado pelo Espírito“. A Igreja, como povo de Deus, é descrita em termos muito significativos. A Igreja é um corpo “eleito”. Isto não significa que Deus tem arbitrariamente escolhido uns para a salvação e outros para a condenação eterna. O povo de Deus é chamado “eleito” no Novo Testamento porque Deus tem “escolhido” a Igreja para fazer a sua obra nesta era, por meio do Espírito Santo, que está ativamente operante a santificar os crentes e conformá-los à imagem de Cristo (Rm 8.28,29). Mais de cem vezes o povo de Deus é chamado os “santos” (gr. hagioi) de Deus, no Novo Testamento. Não se entenda as pessoas assim designadas como de condição espiritual superior, nem seu comportamento perfeito ou “santo”. (As muitas referências à Igreja em Corinto como “santos de Deus” devem servir de indício suficiente desse fato.) Pelo contrário, ressalta-se novamente que a Igreja é a criação de Deus e que, pela iniciativa divina, os crentes são “chamados para serem santos” (1 Co 1.2). O povo de Deus é freqüentemente designado como os que estão “em Cristo”, o que dá a entender sejam beneficiários da obra expiadora de Cristo e participem coletivamente dos privilégios e responsabilidades de serem chamados cristãos (gr. cristianous). Alude-se também ao povo de Deus de outras maneiras. Três delas merecem ser mencionadas resumidamente aqui: “crentes”, “irmãos” e “discípulos”. “Crentes” provém do termo grego pistoi (“os fiéis”). Esse termo dá a entender que o povo de Deus não somente creu, ou seja: em algum momento do passado deu assentimento mental à obra salvífica de Cristo, mas também vive continuamente em atitude de fé, confiança obediente e da dedicação ao seu Salvador. (Esse fato é ressaltado ainda por pistoi normalmente ser encontrado no tempo presente no Novo Testamento, o que denota ação contínua). “Irmãos” (gr. adelphoi) é um termo genérico, que se refere tanto a homens quanto a mulheres, freqüentemente usado pelos escritores do Novo Testamento para expressar o fato de que os cristãos são chamados para amar, não somente ao Senhor, como também uns aos outros (1 Jo 3.16). O amor mútuo e a comunhão são inerentes entre o povo de Deus e servem para lembrar que, independentemente de vocação ou cargo individual no ministério, todos os irmãos desfrutam de uma posição de igualdade na presença do Senhor (Mt 23.8). A palavra “discípulos” (gr. mathêtai) significa “aprendizes”, “alunos” ou “estudantes”. Ser aluno nos tempos bíblicos significava muito mais que escutar e assimilar mentalmente as informações dadas pelo professor. Esperava-se também que o aluno imitasse o caráter e a conduta do professor. O povo de Deus é realmente conclamado a ser discípulo semelhante ao seu Mestre, Jesus Cristo. Conforme declara Jesus: “Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, sereis meus discípulos” (Jo 8.31). Jesus não oferece nenhuma falsa impressão da vida de discípulo, como se fosse fácil e popularmente atraente (ver Lc 14.26-33), mas a tem por essencial àqueles que desejarem segui-lo. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, acertadamente, observa que o verdadeiro discípulado cristão requer a disposição de deixar morrer o ego e de entregar tudo a Cristo. O discipulado autêntico é possível somente através do que Bonhoeffer chama “graça dispendiosa”, acrescentando: “Essa graça é dispendiosa porque nos chama a seguir, e é graça porque nos chama a seguir Jesus Cristo. É dispendiosa porque custa ao homem sua própria vida, e é graça porque dá ao homem a única vida verdadeira“. Corpo de Cristo. Figura bíblica da máxima relevância para representar a Igreja é o “corpo de Cristo”. Era a expressão predileta do apóstolo Paulo, que freqüentemente comparava os inter-relacionamentos e funções dos membros da Igreja com parte do corpo humano. Os escritos de Paulo enfatizam a verdadeira união, que é essencial na Igreja. Por exemplo: “O corpo é um e tem muitos membros… assim é Cristo também” (1 Co 12.12). Da mesma forma que o corpo de Cristo tem o propósito de funcionar eficazmente como uma só unidade, também os dons do Espírito Santo são dados para equipar o corpo “pelo Espírito Santo… o mesmo Senhor… o mesmo Deus que opera tudo em todos… para que for útil” (1 Co 12.4-7). Por esta razão, os membros do corpo de Cristo devem agir com grande cautela “para que não haja divisão [gr. schisma] no corpo, mas, antes, tenham os membros igual cuidado uns dos outros” (1 Co 12.25; cf. Rm 12.5). Os cristãos podem ter essa união e mútua solicitude porque foram todos “batizados em um Espírito, formando um corpo” (1 Co 12.13). A presença do Espírito Santo, habitando em cada membro do corpo de Cristo, permite a manifestação legítima dessa união. Gordon D. Fee declara, com razão: “Nossa necessidade urgente é uma obra soberana do Espírito para fazer entre nós o que nossa ‘união programada’ não consegue fazer“. Embora deva existir união no corpo de Cristo, não se constitui antítese enfatizar que é necessária a diversidade para o bom funcionamento do corpo de Cristo. No mesmo contexto em que Paulo enfatiza a união, também, declara: “Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos” (1 Co 12.14). Referindo-se à mesma analogia, em outra Epístola, Paulo declara: “Assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação…” (Rm 12.4). Fee observa que a união “não importa na uniformidade… nem pode existir verdadeira união se não há diversidade“. A preciosa relevância dessa diversidade é ressaltada em todas as partes de 1 Coríntios 12, especialmente em conexão com os dons espirituais, tão essenciais ao ministério da Igreja (ver 1 Co 12.7-11,27-33; cf. Rm 12.4-8). Deus usa métodos diferentes para moldar os membros da Igreja. Ele não chama todos ao mesmo ministério nem os equipa com o mesmo dom. Pelo contrário, à semelhança do corpo humano, Deus formou a Igreja de tal maneira que ela funciona melhor quando cada parte (ou membro) cumpre com eficiência o papel (ou vocação) a que foi destinado. Dessa maneira, há uma “unidade na diversidade” dentro do corpo de Cristo. Inerente a essa metáfora, portanto, existe a idéia da mutualidade: cada crente cooperado com os demais membros e esforçando-se em prol da edificação de todos. Esse modo de viver pode, por exemplo, envolver o sofrer com os que estão sofrendo dores ou o regozijo com os que estão sendo honrados (1 Co 12.26). Implica também em levar o fardo de um irmão ou irmã no Senhor (Gl 6.2) ou ajudar na restauração de quem caiu no pecado (Gl 6.1). Há, nas Escrituras, uma infinidade de práticas citadas como exemplos dessa mutualidade. A lição principal é que nenhum membro individual do corpo de Cristo pode ter um relacionamento exclusivo e individualista com o Senhor. Cada “indivíduo” é, na realidade, um componente necessário à estrutura corpórea da Igreja. Assevera Claude Welch: “Não há cristianismo puramente particular, porque estar na igreja é estar em Cristo, e qualquer tentativa no sentido de fazer uma separação entre o relacionamento com Cristo pela fé e a afiliação na igreja, é uma perversão do modo neotestamentário de entender o assunto“. Um último aspecto na figura do corpo de Cristo é o relacionamento entre o Corpo e sua Cabeça, Jesus Cristo (Ef 1.22,23; 5.23). Como Cabeça do Corpo, Cristo é tanto a fonte quanto o sustento da vida da Igreja. À medida que seus membros se curvarem à liderança de Cristo e funcionarem conforme Ele deseja, o corpo de Cristo será alimentado e sustentado e “vai crescendo em aumento de Deus” (Cl 2.19). A unidade, a diversidade e a mutualidade, indispensáveis ao corpo de Cristo, podem ser conseguidas à medida que “crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo… segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor” (Ef 4.15,16). Templo do Espírito. Outra figura muito significativa da Igreja, no Novo Testamento, é “o templo do Espírito Santo”. Os escritores bíblicos empregam vários símbolos para representar os componentes da construção desse templo, que têm seu paralelo nos materiais necessários à construção de uma estrutura terrestre. Por exemplo: toda edificação precisa de um alicerce sólido. Paulo indica com clareza que o alicerce primário da Igreja é a pessoa e obra históricas de Cristo: “Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo” (1 Co 3.11). Em outra Epístola, no entanto, Paulo afirma que, em outro sentido, a Igreja é edificada “sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas” (Ef 2.20). Talvez isto signifique que esses primeiros líderes tivessem sido usados de modo muito especial pelo Senhor, a fim de estabelecer e fortalecer o templo do Espírito com os ensinos e práticas que haviam aprendido de Cristo e que continuam a ser comunicados aos crentes hodiernos através das Escrituras. Outro componente dessa edificação espiritual, que existe em estreita relação com o alicerce, é a “principal pedra da esquina”. Nas edificações modernas, a pedra da esquina é usualmente mais simbólica que parte integrante dos alicerces, onde é gravada a data em que foi lançada e os nomes dos principais benfeitores envolvidos. Na era bíblica, no entanto, a pedra da esquina era da máxima relevância. Normalmente maior que as demais pedras, orientava o desenvolvimento do projeto para o restante da edificação e dava simetria à obra inteira. Cristo é descrito como “a principal pedra da esquina; no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo no Senhor” (Ef 2.20,21; cf. 1 Pe 2.6,7). As pedras normais, necessárias para completar a estrutura, estavam ligadas à pedra da esquina. O apóstolo Pedro retrata os crentes desempenhando aquele papel, e os descreve “como pedras vivas, [que] sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo” (1 Pe 2.5). O termo aqui empregado por Pedro é lithos (“pedra”), uma palavra grega muito comum. No entanto, em contraste aos sinônimos mais familiares, petros (uma pedra solta ou pedregulho) e petra (uma rocha sólida de tamanho suficiente para ser um alicerce), as “pedras vivas” (gr. lithoi zõntes), neste contexto, sugerem “pedras lavradas”, ou seja, que foram cortadas e adaptadas pelo mestre da obra (Cristo) para encaixarem corretamente. Tanto em Efésios 2 quanto em 1 Pedro 2, os verbos que descrevem a construção desse templo usualmente estão no tempo presente, o que transmite a idéia de ação contínua. Talvez seja possível inferir daí que os cristãos “ainda estão em obras”. O propósito é, naturalmente, enfatizar que a obra santificadora do Espírito é um empreendimento progressivo e contínuo a fim de realizar os propósitos de Deus na vida dos crentes. Estão sendo bem ajustados para ser um templo santo no Senhor, edificados para tornar-se morada de Deus no Espírito. (Ef 2.21,22). A metáfora do templo do Espírito Santo confirma ainda mais que a terceira Pessoa da Trindade habita na Igreja, quer individual, quer coletivamente. Por exemplo: Paulo pergunta aos crentes de Corinto: “Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?… O templo de Deus, que sois vós, é santo” (1 Co 3.16,17). Nesse trecho específico, Paulo está se dirigindo à Igreja coletivamente (“vós”). Em 1 Coríntios 6.19, Paulo faz referência ao crente individual: “Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus?“. Nos capítulos 3 e 6 de 1 Coríntios, bem como num texto semelhante em 2 Coríntios 6.16ss, a palavra empregada por Paulo com o sentido de “templo” é naos. Diferentemente do termo mais geral, hieron, que se refere ao templo inteiro, inclusive seus átrios, naos significa o santuário interior, o Santo dos Santos onde o Senhor manifesta a sua presença de uma maneira especial. Paulo está dizendo, com efeito, que os crentes, como templo do Espírito Santo, são nada menos que a habitação de Deus. O Espírito de Deus não somente transmite à Igreja poder para o serviço (At 1.8), como também a sua vida, ao habitar dentro dela. Conseqüentemente, há um entendimento real de que as qualidades que exemplificam sua natureza (por exemplo, o “fruto do Espírito”, Gl 5.22,23) acham-se na Igreja, evidenciando, assim, que ela está andando no Espírito (Gl 5.25). Outras figuras. Além do conjunto um tanto trinitariano das figuras da Igreja, mencionadas supra (povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo), muitas outras metáforas bíblicas nos ajudam a ampliar a perspectiva da natureza da Igreja. Retratos da Igreja como o sacerdócio dos crentes (1 Pe 2.5,9), a Noiva de Cristo (Ef 5.23-32), o rebanho do Bom Pastor (Jo 10.1-18) e os sarmentos da Videira verdadeira (Jo 15.1-8) são algumas amostras das diversas maneiras como as Escrituras representam a composição e as características distintivas da Igreja verdadeira, que consiste nos redimidos. De maneiras diferentes, essas figuras de linguagem ilustram a identidade e propósito da Igreja, que Jesus expressa de modo tão belona sua oração sacerdotal: [Rogo] para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu, em ti; que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste… para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim (Jo 17.21,23). O Caráter da Graça A expressão “Igreja Universal” é empregada em alguns círculos com algumas variantes: “igreja ecumênica” e “igreja católica”. Embora os termos “ecumênico” e “católico” signifiquem simplesmente “universal”, o emprego histórico ocasionou diferenças substanciais. Se falamos hoje em igreja “ecumênica”, por exemplo, normalmente nos referimos a uma organização composta de várias denominações que se reúnem em torno das crenças ou práticas (ou ambas) que sustentam em comum. O termo “católico” se tem essencialmente tornado sinônimo da Igreja Católica Romana. Embora certamente haja crentes genuínos dentro das fileiras dessas organizações, seria engano confundir associações terrestres com o corpo universal dos crentes. Idealmente, a igreja local deve ser uma pequena réplica da Igreja universal. Isto é, deve ser composta de pessoas pertencentes a todas as situações históricas, culturas raciais ou étnicas e níveis sócio-econômicos, que nasceram de novo e compartilham a dedicação de suas vidas ao senhorio de Jesus Cristo. Infelizmente, semelhantes ideais espirituais são raramente alcançados entre seres humanos, que são um pouco menos que glorificados. Assim como nos tempos do Novo Testamento, é possível haver nas assembléias cristãs locais ovelhas insinceras ou até mesmo falsas entre o rebanho. E assim, a despeito das melhores intenções, a igreja local muitas vezes fica aquém do caráter e natureza da Igreja universal verdadeira. Semelhantemente, a Igreja é também chamada “visível” e “invisível”. Esta distinção aparecia já na literatura cristã, nos tempos de Agostinho, e achava-se freqüentemente nos escritos dos reformadores, como Lutero e Calvino. Alguns oponentes de Lutero acusaram-no de estar sugerindo, na prática, haver duas igrejas diferentes. Isto, em parte, porque Lutero falava de uma ekklêsiola dentro da ekklêsia visível. A intenção de Lutero, no entanto, não era distinguir duas igrejas, mas apontar dois aspectos da Igreja única de Jesus Cristo. A expressão luterana simplesmente indica que a Igreja é invisível por ser de natureza essencialmente espiritual: os crentes estão invisivelmente unidos com Cristo pelo Espírito Santo, as bênçãos da salvação não se podem discernir pelo olho natural, etc. A Igreja invisível, no entanto, assume forma visível na organização externa, terrestre. A Igreja é apresentada de várias maneiras através do testemunho e conduta prática cristãos e do ministério tangível dos crentes, coletiva e individualmente. A Igreja visível, assim como a igreja local, deve ser uma versão menor da Igreja invisível (ou universal); porém, conforme já observado, nem sempre acontece assim. A pessoa pode professar fé em Cristo sem realmente conhecê-lo como Salvador e, embora se associe com a Igreja como instituição externa, pode não pertencer realmente à Igreja invisível. A tendência, no decurso da história da Igreja, tem sido oscilar entre um extremo e outro. Por exemplo: algumas tradições, como a Católica Romana, a Ortodoxa Oriental e a Anglicana, enfatizam a prioridade da Igreja institucional ou visível. Outras, como a dos quacres e dos Irmãos de Plymouth, ressaltando uma fé mais interna e subjetiva, têm desprezado e até mesmo criticado qualquer tipo de organização e estrutura formal, e buscam a verdadeira Igreja invisível. Conforme observa Millard Erickson, as Escrituras certamente consideram prioridade a condição espiritual do indivíduo e sua posição na Igreja invisível, mas não a ponto de desconsiderar ou menosprezar a importância da organização da Igreja visível. Sugere que, embora haja distinções entre a Igreja visível e a invisível, é importante adotarmos uma abordagem abrangente, de maneira que procuremos deixar as duas serem tão idênticas quanto possível. “Assim como nenhum crente verdadeiro deve estar fora da comunhão, devemos também diligenciar a fim de garantirmos que somente crentes verdadeiros estejam dentro da comunhão“. Seria impossível entender a natureza e o caráter verdadeiros da Igreja (local ou universal, visível ou invisível) sem reconhecer que ela, desde o seu início, tem recebido poder e orientação do Espírito Santo. Pode-se perceber esse fato pelo que Lucas deixou registrado em Atos dos Apóstolos: o início e desenvolvimento da Igreja, as três primeiras décadas da sua existência. As epístolas posteriores do Novo Testamento e a continuação da história da Igreja dão ainda mais ênfase ao papel vital do Espírito Santo na sua trajetória. Imediatamente antes da ascensão, Jesus declarou aos seus discípulos: “Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra” (At 1.8). Com referência ao ministério do Espírito, que viria dentro em breve a revesti-los de poder, Jesus antecipara aos seus seguidores que estes fariam coisas ainda maiores que as que o viam fazer (Jo 14.12). A promessa foi confirmada a partir do derramamento incomparável do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. O leitor de Atos dos Apóstolos fica maravilhado, não somente diante da grande aceitação inicial dos primeiros dons, profecia e exortação, exteriorizados pelo apóstolo Pedro – cheio do Espírito Santo – quando cerca de três mil pessoas foram salvas, mas também diante da continuada aceitação por aqueles que foram alcançados pelo ministério de uma Igreja revestida do poder do Espírito Santo e por Ele equipada (ver At 2.47; 4.4,29-33; 5.12-16 etc). No tocante à mensagem de Pedro no dia de Pentecostes, certo estudioso evangélico (não-pentecostal) declara: “Realmente não podemos explicar os resultados do sermão de Pedro simplesmente pela perícia com que foi preparado e pregado. A razão do seu sucesso acha-se no poder do Espírito Santo“. Semelhantemente, o mesmo estudioso declara que a continuada eficácia dos crentes primitivos descrita em Atos dos Apóstolos não pode ser explicada em termos de capacidade e esforço próprios: “Não eram pessoas incomuns. Os resultados eram uma conseqüência do ministério do Espírito Santo“. O Espírito Santo continuava a fortalecer e orientar a Igreja após a era neotestamentária. Contrariamente à opinião popular em alguns arraiais não-pentecostais, os dons e manifestações do Espírito Santo não cessaram no fim da era apostólica, mas continuaram nos séculos que se seguiam ao período do Novo Testamento. Conforme observado numa seção anterior, há poucas dúvidas de que, à medida que a Igreja se expandia, alcançava existência jurídica e aceitação e se tornava cada vez mais formal e institucionalizada, seu senso de dependência imediata da orientação e capacitação do Espírito começou a desvanecer. Vários movimentos reavivalistas, no entanto, proporcionam evidências históricas de que a posição de destaque do Espírito Santo não foi totalmente esquecida ou desconsiderada. A Igreja moderna, especialmente os membros alistados entre as centenas de milhões de crentes pentecostais existentes no mundo inteiro, jamais devem perder de vista a importância bíblica e teológica de continuar prestando atenção e obediência à soberana atuação do Espírito de Deus. Suas ações são manifestas, não somente em demonstrações incomuns de poder miraculoso como também de maneira normativa, cuja orientação e assistência é às vezes quase imperceptível (cf. 1 Rs 19.11,12). A Igreja hodierna precisa manter-se receptiva e submissa à direção e suave orientação do Espírito Santo. Somente assim o cristianismo contemporâneo poderá proclamar afinidade com a Igreja do Novo Testamento. Outra maneira de entender o caráter da Igreja do Novo Testamento é examinando o seu relacionamento com o Reino de Deus (gr. basileia tou theou). O Reino era um dos principais ensinos de Jesus durante seu ministério terrestre. E, na realidade, embora os evangelhos registrem apenas três menções específicas à igreja (ekklêsia, todas as declarações de Jesus, registradas em Mt 16 e 18), estão repletos de ênfases ao Reino. O termo basileia (“reino”) é usualmente definido como o governo de Deus, a esfera universal do seu domínio. Seguindo esse modo de entender, alguns fazem distinção entre Reino e Igreja. Consideram que o Reino inclui todas as criaturas celestiais não caídas (os anjos) e os redimidos entre a raça humana (antes e depois dos tempos de Cristo). Por contraste, a Igreja consiste mais especificamente de seres humanos regenerados mediante a obra expiadora de Cristo. Os que defendem tal distinção acreditam que o Reino de Deus transcendem o tempo e tem a mesma duração que o Universo, ao passo que a Igreja tem um ponto inicial específico e também será um ponto culminante específico, na segunda vinda de Cristo. Partindo-se dessa perspectiva, portanto, o Reino consiste nos redimidos de todos os tempos (os santos do Antigo e do Novo Testamento), enquanto a Igreja consiste naqueles que foram redimidos a partir da obra completa de Cristo (sua crucificação e ressurreição). De conformidade com esse raciocínio, a pessoa pode ser membro do Reino de Deus sem pertencer à Igreja (por exemplo, os patriarcas Moisés e Davi), mas quem é membro da Igreja pertence simultaneamente ao Reino. À medida que mais indivíduos se convertem a Cristo e se tornam membros da Igreja, somam-se também ao Reino, que assim cresce. Outros interpretam de modo diferente a distinção entre Reino e Igreja. George E. Ladd entendia que o Reino era o reinado de Deus, e a Igreja, por contraste, a esfera do domínio divino – as pessoas sujeitas ao governo de Deus. De modo semelhante ao que distinguem entre Reino e Igreja, Ladd achava que não se deveria equiparar os dois. Pelo contrário, o Reino cria a Igreja, e a Igreja dá testemunho do Reino. Além disso, a Igreja é instrumento e depositária do Reino, como também a forma que o Reino ou reinado de Deus assume na Terra: uma manifestação concreta do governo soberano de Deus entre a raça humana. Outros distinguem Reino de Deus e Igreja por acreditarem ser aquele primariamente um conceito escatológico, ao passo que esta possui uma identidade mais temporal e presente. Louis Berkhof considera que a idéia bíblica primária do Reino é o governo de Deus “reconhecido nos corações dos pecadores mediante a poderosa influência regeneradora do Espírito Santo”. Esse governo já é exercido na Terra, em princípio (“a realização presente dele é espiritual e invisível”), mas não o será de modo completo antes da segunda vinda visível de Cristo. Em outras palavras, Berkhof defende um aspecto de “já/ainda não” operando no relacionamento entre o Reino e a Igreja. Por exemplo: Jesus enfatiza a realidade presente e o caráter universal do Reino, concretizados de modo inédito mediante seu próprio ministério. Além disso, Ele oferecia uma esperança futura: o Reino que viria em glória. Nesse aspecto, Berkhof não fica longe das posições teológicas declaradas supra, que descrevem o Reino em termos mais amplos que a Igreja. O Reino (palavras dele) “visa nada menos que o total controle de todas as manifestações da vida. Representa o domínio de Deus em todas as esferas da atividade humana“. O Propósito da Igreja A parte central das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, antes da sua ascensão, foi a ordem (não uma sugestão) de evangelizar o mundo e fazer novos discípulos (Mt 28.19; At 1.8). Cristo não abandonou aqueles evangelistas à sua própria capacidade ou técnica. Ele os comissionou a ir com a sua autoridade (Mt 28.18) e no poder do Espírito Santo (At 1.8). O Espírito levaria a efeito a convicção do pecado (Jo 16.8-11); os discípulos deveriam proclamar o Evangelho. A tarefa da evangelização ainda faz parte imperativa da missão da Igreja. A Igreja é chamada a ser uma comunidade evangelizadora. Este mandamento não tem restrições nem fronteiras geográficas, raciais ou sociais. Erickson declara: “O evangelismo local, a extensão ou a implantação de igrejas, bem como as missões mundiais, são uma única e a mesma coisa. A única diferença acha-se na distância do raio de alcance“. Os crentes atuais não devem esquecer que, embora sejam eles os instrumentos da proclamação do Evangelho, não deixa de ser o Senhor da colheita quem produz o incremento. Os crentes não têm de prestar contas do seu “sucesso” (segundo os padrões do mundo), mas da sua dedicação e fidelidade no serviço. A Igreja também é chamada a ser uma comunidade que adora. A palavra “adoração”, no inglês antigo, denota a pessoa que recebe honra proporcional à sua dignidade. A adoração genuína é caracterizada quando a Igreja centraliza a sua atenção no Senhor, e não em si mesma. Quando Deus é adorado exclusivamente, os crentes que assim o adoram são invariavelmente abençoados e espiritualmente fortalecidos. A adoração não precisa ser limitada somente aos cultos regulares do cronograma da igreja. Na realidade, todos os aspectos da nossa vida cristã devem caracterizar-se pelo desejo de exaltar e glorificar ao Senhor. Parece ser esta a razão de Paulo dizer: “Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus” (1 Co 10.31). Um terceiro propósito da Igreja é ser uma comunidade edificante. Na evangelização, a Igreja focaliza o mundo; na adoração, volta-se para Deus; e, na edificação, atenta (corretamente) para si mesma. Repetidas vezes, nas Escrituras, os crentes são admoestados a edificar uns aos outros para assim formarem uma comunidade idônea (cf. Ef 4.12-16). A edificação pode ser levada a efeito por muitos meios práticos. Por exemplo: ensinar e instruir os outros nos caminhos de Deus certamente enriquece a família da fé (Mt 28.20; Ef 4.11,12). Administrar a correção espiritual numa atitude de amor é essencial na ajuda ao irmão desviado, a fim de que permaneça no caminho da fé (Ef 4.15; Gl 6.1). Compartilhar com os necessitados (2 Co 9), levar os fardos uns dos outros (Gl 6.2) e fornecer oportunidades para convívio e interação social cristãos sadios são meios relevantes de edificar o corpo de Cristo. A Igreja é também chamada a ser uma comunidade com solicitude e responsabilidade sociais. Infelizmente, esta vocação tem sido minimizada ou negligenciada entre muitos evangélicos e pentecostais. É possível que muitos crentes sinceros tenham receio de se tornar modernistas ou rumar na direção do assim chamado “evangelho social”, caso se envolvam em ministérios que visem o atendimento social. Haveria fundamento para tal receio se esse tipo de obra fosse levado a extremos malsãos e deixasse de lado verdades eternas ao oferecer alívio temporário. Por outro lado, o descuido com as necessidades sociais representa o abandono de um vasto número de admoestações bíblicas dirigidas ao povo de Deus, no sentido de serem cumpridas essas obrigações. O ministério de Jesus caracterizava-se pela compaixão amorosa a todos os sofredores e indigentes deste mundo (Mt 25.31-46; Lc 10.25-37). Idêntica solicitude é demonstrada tanto nos escritos proféticos do Antigo Testamento (Is 1.15-17; Mq 6.8) quanto nas epístolas neotestamentárias (Tg 1.27; 1 Jo 3.17,18). Expressar o amor de Cristo de modo tangível pode ser um meio vital de a Igreja cumprir a missão que lhe foi confiada por Deus. Assim como em todos os aspectos da missão (ou propósito) da Igreja, é essencial que nossos motivos e métodos visem fazer tudo para a glória de Deus. A ORGANIZAÇÃO DA IGREJA Organismo ou Organização? Talvez a melhor abordagem à questão, por vezes controvertida, não seja colocar o problema como pergunta (“Qual dos dois?”), mas como solução: ambos. O exame da Igreja do Novo Testamento revelará certamente aspectos que favorecem o conceito de “organismo”. A Igreja era dinâmica e desfrutava da liberdade e do entusiasmo de ser dirigida pelo Espírito. Por outro lado, o mesmo exame revelará que a Igreja, desde o seu início, operava com certo grau de estrutura operacional. Os dois pontos de vista (organismo e organização) não precisam colocar-se em estado de tensão, pois é possível perceber que se completam mutuamente. Cada uma das descrições bíblicas da Igreja analisadas supra – povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo – sugerem uma unidade orgânica. Afinal de contas, a vida espiritual do cristão deriva de seu relacionamento com Cristo, e sua vida, como conseqüência, flui através dele à medida que se torna canal para alimentar e fortalecer a comunidade (Ef 4.15,16). Para o organismo sobreviver, no entanto, precisará de uma estrutura. A Igreja, para poder levar o Evangelho a todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, necessitará de algum tipo de sistema organizacional para o emprego mais eficiente de seus recursos. O desejo de se viver uma igreja neotestamentária é uma aspiração digna e nobre. Os crentes devem continuar a modelar sua teologia de conformidade com os ensinos apostólicos e permanecer na busca da orientação do Espírito Santo em sua vida. No entanto, o Novo Testamento indica vários meios de organização para suprir essa necessidade. Por exemplo: a igreja não escolheu diáconos, a não ser quando surgiu a necessidade deles. Posteriormente, foram acrescentadas diaconisas. Existe no Novo Testamento elasticidade para acomodar necessidades geradas por situações geográficas e culturais as mais diversas. Lembremo-nos de que a mensagem do Novo Testamento é eterna e não pode ser submetida a meios-termos. Entretanto, para que a mensagem se torne eficaz, torna-se necessário aplicá-la ao meio contemporâneo. Formas Principais de Governo Eclesiástico A forma episcopal de governo eclesiástico é normalmente considerada a mais antiga. O próprio título é derivado da palavra grega episkopos, que significa “supervisor”. A tradução mais freqüente desse termo é “bispo” ou “superintendente”. Os que apóiam esta forma de constituição eclesiástica acreditam que Cristo, como Cabeça da Igreja, tenha confiado o controle de sua Igreja na Terra a uma ordem de oficiais chamados bispos, que seriam sucessores dos apóstolos. Acreditam ainda que Cristo constituiu os bispos para serem “uma ordem separada, independente e autoperpetuante” (significa que exercem o controle definitivo nas questões de governo eclesiástico e que selecionam seus próprios sucessores). A história da Igreja apresenta evidências da exaltação paulatina da posição de bispo acima das outras posições de liderança eclesiástica. No século II, Inácio de Antioquia (sendo ele mesmo um bispo) ofereceu base racional para a sucessão apostólica ao escrever: “Porque Jesus Cristo – aquela vida da qual não poderemos ser separados à força – é a mente do Pai, assim como também os bispos, nomeados em todas as partes do mundo, refletem a mente de Jesus Cristo“. Em sua carta, Inácio atribui crédito a outros oficiais eclesiásticos, inclusive presbitérios e diáconos, e observa que, “sem eles, não se pode ter uma igreja“. Enfatizava, no entanto, que somente o bispo “desempenha o papel de Pai“. Cipriano, um dos pais da Igreja no século III, elevou ainda mais a importância do bispo e a forma de governo episcopal, declarando: “O bispo está na igreja e a igreja está no bispo, e onde não houver bispo não há igreja“. A versão extrema do sistema episcopal encontra-se na organização da Igreja Católica Romana, que remonta pelo menos ao século V. Na tradição católica, o papa (“pai exaltado”) aparece como o único sucessor reconhecido do apóstolo Pedro, este considerado pela Igreja Católica como aquele sobre quem Cristo estabeleceu a Igreja (Mt 16.17-19) e que veio a ser o primeiro bispo de Roma. No catoliscimo há muitos bispos, mas todos são considerados sujeitos à autoridade do papa, que, no seu papel de “vigário de Cristo”, governa como bispo supremo, ou monárquico, da Igreja Romana. Outras igrejas que seguem o sistema episcopal de governo adotam uma abordagem menos exclusivista e possuem vários (às vezes numerosos) líderes que exercem, como bispos, igual autoridade e supervisão na igreja. Tais grupos incluem a Igreja Anglicana (ou Episcopal, fora da Inglaterra), a Igreja Metodista Unida e vários grupos pentecostais, inclusive a Igreja de Deus (Cleveland, Tennessee) e a Igreja da Santidade Pentecostal. Os pormenores específicos do governo eclesiástico muitas vezes diferem grandemente entre os vários grupos, mas têm em comum a forma que identifica o sistema episcopal. A forma presbiteriana de constituição eclesiástica deriva seu nome do cargo e função bíblicos do presbuteros (“presbítero” ou “ancião”). Este sistema de governo tem um controle menos centralizado que o modelo episcopal: confia na liderança de representação. Cristo é reconhecido como o Cabeça da Igreja (em última análise) e os escolhidos (usualmente por eleição) para ser seus representantes diante da igreja lideram nas atividades normais da vida cristã (adoração, doutrina, administração etc.). Assim como na forma episcopal, a aplicação do sistema presbiteriano varia de denominação para denominação. Todavia o modelo normalmente consiste em pelo menos quatro níveis. O primeiro (de baixo para cima) é a igreja local, governada pelo “concílio”, que consistem em “anciãos governantes” (ou diáconos) e “anciãos ensinantes” (ou ministros). O segundo nível (para cima) de autoridade é o presbitério, que consiste em anciãos governantes e ensinantes de determinado distrito geográfico. Num plano ainda mais alto, temos o sínodo e, finalmente, na posição suprema de autoridade, chegamos à Assembléia Geral (ou Supremo Concílio). Da mesma forma, os níveis são dirigidos por líderes (clérigos e leigos) que agem como representantes dos membros, por estes eleitos, e são responsáveis pela orientação espiritual e pragmática. Embora não haja nenhuma forte autoridade centralizada, como no sistema episcopal, as igrejas que compõem o sistema presbiteriano têm um forte vínculo de comunhão e uma tradição de doutrina e prática comuns. Entre as igrejas que adotam esta forma de constituição eclesiástica estão as presbiterianas e as reformadas e alguns grupos pentecostais, inclusive, em grande medida, as Assembléias de Deus (a respeito das quais ainda forneceremos mais dados). A terceira forma de governo eclesiástico é o sistema congregacional. Conforme sugere o nome, seu enfoque de autoridade recai sobre o corpo local de crentes. Entre os três tipos principais de constituição eclesiástica, é o sistema congregacional que mais controle coloca nas mãos dos leigos e mais se aproxima da pura democracia. A congregação local é considerada autônoma nas suas tomadas de decisões, sendo que nenhuma pessoa ou organização tem autoridade sobre ela, a não ser Cristo, o verdadeiro Cabeça da Igreja. Não sugerimos com isso que as igrejas congregacionais ajam em total isolamento ou sejam indiferentes às crenças e costumes das igrejas irmãs. As igrejas congregacionais da mesma convicção teológica desfrutam normalmente de fortes laços de comunhão, e não raro esforçam-se para cooperar entre si nos programas de maior escala, como as missões ou a educação (conforme se vê, por exemplo, dentro da Convenção Batista do Sul dos EUA). Ao mesmo tempo, apesar do forte senso de união e coesão quanto ao propósito e ministério globais, a associação dessas igrejas é voluntária, e não obrigatória. E sua estrutura tem mais elasticidade que a presbiteriana ou, especialmente, mais que a episcopal. Entre as igrejas que operam segundo o modelo congregacional estão a maioria das associações batistas, a Igreja Congregacional e muitas igrejas contidas no amplo espectro dos movimentos eclesiásticos independentes. Os seguidores de qualquer um dos três principais sistemas de governo acreditam no apoio do Novo Testamento à sua forma de constituição eclesiástica. Por exemplo, uma leitura informal das epístolas do Novo Testamento revela que os dois títulos: episkopos (“bispo”, “supervisor”, “superintendente”) e presbuteros (“presbítero”, “ancião”) são freqüentemente usados com referência aos líderes da Igreja Primitiva. Paulo, em 1 Timóteo 3.1-7, instrui a respeito do cargo de bispo (episkopos) e repete algumas dessas instruções em Tito 1.5-9. Aqui, no entanto, parece que Paulo emprega os termos episkopos (v. 7) e presbuteros (v. 5) de modo intercambiável. Em outros trechos bíblicos, os dois cargos parecem estar separados (cf. At 15.4,22; Fp 1.1). Como conseqüência, dependendo da ênfase que se dê a um desses textos, seria possível interpretar a estrutura da Igreja Primitiva igualmente em termos episcopais ou presbiterianos. Um texto das Escrituras é freqüentemente usado pelos dois grupos para ilustrar seu sistema: Atos 15, que relata o Concílio da Igreja em Jerusalém. Parece que Tiago, irmão de Jesus, preside o concílio. Este fato, juntamente com outras referências a Tiago como “apóstolo” e “coluna da igreja” (Gl 1.19; 2.9), tem convencido alguns de que Tiago exercia autoridade de bispo. Por outro lado, os defensores do sistema presbiteriano acham que Tiago parece mais estar agindo como moderador (presidente do concílio) que como uma figura de autoridade e que os demais parecem estar no papel de líderes escolhidos para representar suas respectivas igrejas. Há, ainda, referências neotestamentárias que favorecem o sistema congregacional sugerindo que a Igreja Primitiva elegia seus próprios líderes e delegados (por exemplo, At 6.2-4; 11.22; 14.23) e que a congregação local tinha a responsabilidade de manter a sã doutrina; cabia-lhe também disciplinar (por exemplo, Mt 18.15-17; 1 Co 5.4,5; 1 Ts 5.21,22; 1 Jo 4.1). Portanto, obviamente, nenhum modelo completo de governo eclesiástico é oferecido pelo Novo Testamento. Os múltiplos modelos vinham a satisfazer as necessidades, e assim foram estabelecidos princípios para o exercício da autoridade e oferecidos exemplos que possivelmente dão apoio a qualquer um dos três tipos históricos de governo eclesiástico. Hoje, a maioria das igrejas segue o modelo essencial de um desses três tipos, mas não sem modificações, que visam a adaptação ao modo específico de cada grupo definir e exercer o ministério. E, embora nenhum desses sistemas seja inerentemente certo ou errado, pode-se ver que cada um apresenta tanto aspectos positivos quanto negativos. Seja qual for o tipo de governo eclesiástico que escolhermos, merecem destaque vários princípios bíblicos, que devem servir de alicerce a qualquer estrutura desse tipo. Cristo deve ser sempre reconhecido e honrado como Cabeça suprema da Igreja. Se os cristãos perderem de vista essa verdade absoluta, nenhuma forma de governo será bem-sucedida. W. D. Davies declara, com muita razão: “O critério neotestamentário ulterior de qualquer ordem eclesiástica… é que não usurpe a coroa real do Salvador dentro da sua Igreja“. Outro princípio fundamental deve ser o reconhecimento da união básica da Igreja. Sem dúvida, há muita diversidade entre as crenças e práticas das várias denominações (e até mesmo dentro de uma única denominação). Os valores culturais e tradicionais variam grandemente entre si. Mesmo assim, e levando-se em conta todas as diferenças, o corpo de Cristo não deixa de ser uma “unidade na multiplicidade”, e é necessário muito cuidado para manter a harmonia e união de propósitos entre o povo de Deus. Antes de finalizarmos esta seção, é oportuno dizer algo a respeito da estrutura organizacional das Assembléias de Deus. Muitos dos pioneiros desta comunhão reagiram, desde o início, contra uma forte autoridade central a governá-la. Isto porque as denominações às quais antes pertenciam haviam excluído os crentes que receberam o Espírito Santo como ameaças ao situacionismo (entre outras coisas). Alguns dos primeiros pentecostais não estavam mais dispostos a servir uma religião “organizada” – conforme eles a identificavam. No decurso do tempo, entretanto, muitos dos primeiros líderes pentecostais perceberam a necessidade de algum tipo de estrutura através da qual a mensagem moderna do Pentecostes pudesse ser promovida. Conseqüentemente, as Assembléias de Deus foram organizadas como uma “comunhão” ou “movimento” (muitos ainda repudiavam o termo “denominação”), que enfatizava a liberdade dos membros dirigidos pelo Espírito. À medida que as Assembléias de Deus têm crescido e amadurecido, no decurso do século XX, é reconhecida também a necessidade de uma organização ainda melhor para manter-se à altura das exigências cada vez maiores impostas ao ministério. Há diferenças de opinião no tocante a qual dos três tipos de governo eclesiástico é aceito pelas Assembléias de Deus. Talvez se possa sugerir que, de alguma forma, foram adotados os três. A estrutura organizacional global das Assembléias de Deus assemelha-se mais estreitamente à constituição eclesiástica presbiteriana (conforme já foi aludido). Desde a igreja local até os níveis de distrito e Concílio Geral, a ênfase maior recai na liderança representativa eleita. Os clérigos são comumente representados por “presbíteros”, ao passo que os leigos são representados por delegados devidamente escolhidos. Por outro lado, o sistema congregacional de governo pode ser facilmente observado na igreja local. Embora muitas igrejas das Assembléias de Deus sejam consideradas “dependentes” por buscarem na liderança distrital a orientação e o apoio, muitas têm progredido até a condição “soberana”. Possuem bastante autonomia na tomada das decisões (escolhem seus próprios pastores, compram e vendem propriedades, etc), mas conservam os laços de união, no tocante à doutrina e prática, com as demais igrejas da área ou distrito ou com o Concílio Geral. A forma episcopal, segundo alguns, também está presente até certo ponto nas Assembléias de Deus. Por exemplo, algumas das agências nacionais ou do Concílio Geral (a Divisão de Missões Estrangeiras, a Divisão de Missões Nacionais, o Departamento da Capelania) têm motivos válidos para nomear indivíduos para áreas fundamentais, com base na sua vocação e aptidão para semelhantes ministérios. O MINISTÉRIO DA IGREJA O Sacerdócio dos Crentes O conceito sacerdócio de todos os crentes certamente está fundamentado nas Escrituras. Referindo-se aos crentes, Pedro os descreve como “sacerdócio santo” (1 Pe 2.5) e tira do Antigo Testamento outra analogia para a Igreja: “sacerdócio real” (1 Pe 2.9). João diz que os crentes foram feitos “reis e sacerdotes para Deus” (Ap 1.6; ver também 5.10). Independente de nossa situação ou vocação na vida, podemos desfrutar dos privilégios e responsabilidades de servir ao Senhor como membros de sua Igreja. Paul Minear refere-se ao conceito neotestamentário de cristãos como “acionistas (gr. koinõnoi) no Espírito e… acionistas na múltipla vocação que o Espírito atribui aos fiéis”. Este ponto de vista enfatiza que o ministério é uma vocação não somente divina mas também universal. Saucy sugere: “Na realidade, o ministério da igreja é o ministério do Espírito dividido entre os vários membros, sendo que cada um contribui com seu dom à obra total da igreja“. Os crentes dependem do Espírito para trabalhar, mas sua obra está à disposição de cada crente individualmente. A Igreja, no decurso dos séculos, sempre tendeu a dividir-se em duas categorias gerais: o clero (gr. klêros – “sorte, porção”, isto é, a porção que Deus separou para si) e o laicato (gr. laos – “povo”). O Novo Testamento, no entanto, não faz uma distinção tão marcante. Pelo contrário, a “porção” ou klêros de Deus, sua própria possessão, refere-se a todos os crentes nascidos de novo, e não somente a um grupo seleto (cf. 1 Pe 2.9). Alan Cole declara com perspicácia que “todos os clérigos são leigos, e todos os leigos também são clérigos, no sentido bíblico da palavra“. Cargos e Funções do Ministério O atual cargo de “pastor” parece coincidir com a posição bíblica de bispo (gr. episkopos) ou presbítero (gr. presbuteros) ou de ambos. Parece que os dois termos eram usados de movo intercambiável no contexto global do Novo Testamento. Berkhof sugere que a palavra “presbítero” ou “ancião” surgiu dos anciãos que governavam a sinagoga judaica, e que o termo foi aproveitado pela Igreja. Conforme sugere o próprio nome, “ancião” com freqüência referia-se literalmente aos mais velhos, respeitados pela sua dignidade e sabedoria. No decurso do tempo, o termo “bispo” passou a ser mais usado para o cargo, pois ressaltava a função de “supervisor” do ancião. O termo “pastor” é usado hoje mais amplamente para quem tem a responsabilidade e supervisão espirituais da igreja local. É interessante que o termo grego poimên (“pastor”) é usado uma única vez no Novo Testamento com referência direta ao ministério do pastor (Ef 4.11). O conceito ou função de pastor, no entanto, é encontrado por toda a Escritura. Conforme sugere o nome, pastor é aquele que cuida das ovelhas. (cf. o retrato que Jesus faz de si mesmo: o “Bom Pastor” – ho poimên ho kalos, em Jo 10.11ss.) A conexão entre os três termos: “bispo”, “presbítero” e “pastor” é clara em Atos 20. No verso 17, Paulo convoca os presbíteros (gr. presbuterous) da igreja em Éfeso. Posteriormente, naquele contexto, Paulo admoesta os presbíteros: “Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos [gr. episkopous]” (v. 28). Na declaração imediata, Paulo exorta os que acabam de ser chamados bispos ou supervisores a serem pastores [gr. poimainein] da Igreja de Deus (v. 28). As responsabilidades e funções dos pastores de hoje, assim como as dos pastores neotestamentários, são muitas e variadas. Três áreas principais a que os pastores devem se dedicar são: administração (cf. 1 Pe 5.1-4), cuidados pastorais (cf. 1 Tm 3.5; Hb 13.17) e instrução (cf. 1 Tm 3.2; 5.17; Tt 1.9). Quanto a essa última área de responsabilidade, é freqüentemente notado que os papéis de pastor e mestre parecem ter muito em comum no Novo Testamento. Realmente, quando Paulo menciona os dois dons à Igreja, em Efésios 4.11, a expressão grega “pastores e mestres” (poimenas kai didaskalous) pode significar alguém que cumpre as duas funções: um “pastor-mestre”. Embora “mestre” seja mencionado em outros textos separadamente de “pastor” (Tg 3.1, por exemplo), o que indica que talvez nem sempre sejam considerados papéis sinônimos, qualquer pastor autêntico levará a sério a obrigação de ensinar o rebanho de Deus. Muita coisa pode ser dita a respeito de cada uma dessas três áreas de responsabilidade, mas basta dizer que os pastores do rebanho de Deus devem conduzi-lo por meio do seu próprio exemplo, nunca esquecendo que estão servindo como pastores-assistentes daquEle que é o verdadeiro Pastor e Bispo de suas almas (1 Pe 2.25). Foi Ele quem deu o exemplo de liderança servil (Mc 9.42-44; Lc 22.27). Outro cargo ou função do ministério associado à igreja local é o de diácono (gr. diakonos). Este termo relaciona-se com diakonia, a palavra mais usada no Novo Testamento para descrever o serviço cristão normal. Tendo amplo uso nas Escrituras, descreve o ministério do povo de Deus em geral (Ef 4.12), bem como o ministério dos apóstolos (At 1.17,25). Até mesmo o próprio Jesus o utiliza, para descrever seu propósito primário: “O Filho do Homem também não veio para ser servido [diakonêthênai], mas para servir [diakonêsai] e dar a sua vida em resgate de muitos” (Mc 10.45). Em termos simples: os diáconos são servos, ou “ministros”, no sentido mais fiel da palavra. Esse fato é acentuado por Paulo ao listar as qualificações para o diaconato, em 1 Timóteo 3.8-13. Muitas das especificações nesse texto são as mesmas do cargo de bispo (ou pastor), mencionados nos versículos anteriores (1 Tm 3.1-7). No texto referente aos diáconos, em 1 Timóteo 3, a declaração de Paulo, no verso 11, que diz respeito às mulheres (literalmente: “Da mesma sorte as mulheres sejam honestas” – gunaikas hõsautõs semnas), tem despertado diferentes interpretações. Algumas versões (como a NVI e a KJV) preferem traduzir a expressão como uma referência à esposa do diácono, o que pode ser uma tradução aceitável. Outras (como a NASB e a RSV), porém, preferem traduzir gunaikas simplesmente como “mulheres”, deixando em aberto a possibilidade de as mulheres serem diaconisas. Como sempre, a tradução de um termo depende do seu uso contextual. Neste caso, infelizmente, o contexto não é suficientemente claro para permitir uma solução dogmática. Muitos associam o texto de 1 Timóteo à referência de Paulo a Febe “a qual serve [gr. diakonon] na igreja” (Rm 16.1). Também neste caso o contexto de Romanos 16 não oferece evidências suficientes para determinar se Febe era diaconisa, ou se Paulo simplesmente estava dizendo que ela detinha um ministério valioso na igreja, qualitativamente semelhante aos serviços desempenhados por outros cristãos. Quanto aos versículos de Romanos 16 e 1 Timóteo 3, os estudiosos ficam um pouco divididos entre si a respeito da tradução correta. Seja como for, a história da Igreja fornece evidências no sentido de mulheres servirem na função de diaconisas já a partir do século II. Conforme observa certo estudioso: “O evangelho de Cristo deu às mulheres dos tempos antigos uma nova dignidade, e não somente lhes concedeu igualdade pessoal diante de Deus como também lhes ofereceu uma participação no ministério“. AS ORDENANÇAS DA IGREJA A seção final deste capítulo estuda uma área que tem sido foco de consideráveis controvérsias na história da doutrina cristã. A maioria dos grupos protestantes concordam entre si que Cristo deixou à Igreja duas observâncias – ou ritos – a serem incorporadas no culto cristão: o batismo nas águas e a Ceia do Senhor. (O protestantismo, seguindo os reformadores, tem rejeitado a natureza sacramental de todos os ritos menos os dois originais). Desde os tempos de Agostinho, muitos têm seguido a opinião de que tanto o batismo quanto a Ceia do Senhor servem como “sinal exterior e visível de uma raça interior e espiritual”. O problema não está na prática dos ritos, mas na interpretação do seu significado (por exemplo, o que subentende uma “graça interior e espiritual”?). Estes ritos históricos da fé cristã são normalmente chamados sacramentos ou ordenanças. Alguns empregam os termos de modo intercambiável, ao passo que outros defendem que o entendimento correto das diferenças entre os conceitos é importante para a correta aplicação teológica. O termo “sacramento” (que provém de sacramentum em latim) é mais antigo e aparentemente de uso mais generalizado que o termo “ordenança”. No mundo antigo, um sacramentum referia-se originalmente a uma soma em dinheiro depositada num lugar sagrado por duas partes envolvidas num litígio. Pronunciada a sentença do tribunal, devolvia-se o dinheiro da parte vencedora, enquanto a perdedora tinha de entregar o seu para “sacramento” obrigatório, considerado sagrado porque passava a ser oferecido aos deuses pagãos. No decurso do tempo, o termo “sacramento” passou a ser aplicado também ao juramento de lealdade prestado pelos novos recrutas do exército romano. Já no século II, os cristãos tinham adotado o termo, e começaram a associá-lo ao seu voto de obediência e consagração ao Senhor. A Vulgata Latina (c. de 400 d.C.) emprega o termo sacramentum como tradução da palavra grega mustêrion (“mistério”), o que veio a acrescentar uma conotação um tanto reticente, misteriosa, às coisas consideradas “sagradas”. Realmente, no decurso dos anos, os sacramentalistas tenderam, uns mais do que os outros, a ver os sacramentos como rituais que transmitem graça espiritual (freqüentemente “graça salvífica”) a quem deles participa. O termo “ordenança” também se deriva do latim (ordo – “uma fileira”, “uma ordem”). Relacionada ao batismo nas águas e à Santa Ceia, a palavra “ordenança” sugere que essas cerimônias sagradas foram instituídas por mandamento, ou “ordem”, de Cristo. Ele ordenou que fossem observadas na Igreja, não porque transmitem algum poder místico ou graça salvífica, mas porque simbolizam o que já aconteceu na vida de quem aceitou a obra salvífica de Cristo. Devido, em grande parte, à conotação um tanto mística que acompanha a palavra “sacramento”, a maioria dos pentecostais e evangélicos prefere o termo “ordenança” para expressar o seu modo de entender o batismo e a Ceia do Senhor. Já na era da Reforma, alguns levantavam objeções à palavra “sacramentos”. Preferiam falar em “sinais” ou “selos” da graça. Tanto Lutero quanto Calvino empregavam o termo “sacramento”, mas chamavam a atenção para o fato de que o usavam num sentido teológico diferente da implicação original da palavra em latim. O colega de Lutero, Philipp Melanchthon, preferia empregar o termo signis (“sinal”). Hoje, alguns que não se consideram “sacramentalistas”, ou seja, que não acham que a graça salvífica seja transmitida através dos sacramentos, continuam usando os termos “sacramento” e “ordenança” de modo sinônimo. Devemos interpretar cuidadosamente o sentido do termo de acordo com a relevância e implicações atribuídas à cerimônia pelos participantes. As ordenanças, determinadas por Cristo e celebradas por causa do seu mandamento e exemplo, não são vistas pela maioria dos pentecostais e evangélicos como capazes de produzir por si mesmas uma mudança espiritual, mas como símbolos ou formas de proclamação daquilo que Cristo já levou a efeito espiritualmente nas suas vidas. O Batismo nas Águas Cristo estabeleceu o modelo para o batismo cristão quando Ele mesmo foi batizado por João, no início de seu ministério público (Mt 3.13-17). Posteriormente, ordenou que seus seguidores saíssem pelo mundo, fazendo discípulos, “batizando-os em [gr. eis – ‘para dentro de’] nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo” (Mt 28.19). Cristo, portanto, instituiu a ordenança do batismo, tanto pelo seu exemplo quanto pelo seu mandamento. Um propósito importante do batismo nas águas, para os crentes, é que ele simboliza a identificação com Cristo. Os crentes neotestamentários eram batizados “para dentro” (gr. eis) do nome do Senhor Jesus (At 8.16), o que indica que estavam sob o senhorio e autoridade soberanos de Cristo. No batismo, o recém-convertido “testifica que estava em Cristo quando Cristo foi condenado pelo pecado, que foi sepultado com Ele e que ressuscitou para a nova vida nEle“. O batismo indica que o crente morreu para o velho modo de viver e entrou na “novidade da vida” mediante a redenção em Cristo. O ato do batismo nas águas não leva a feito essa identificação com Cristo, “mas a pressupõe e a simboliza”. O batismo, portanto, simboliza a ocasião em que aquele antes inimigo de Cristo faz “sua rendição final”. O batismo nas águas também significa que os crentes se identificaram com o corpo de Cristo, a Igreja. Os crentes batizados são admitidos na comunidade da fé e, com sua atitude, testificam publicamente diante do mundo sua lealdade a Cristo, juntamente com o povo de Deus. Essa parece ser uma das razões principais por que os crentes neotestamentários eram batizados quase imediatamente após a conversão. Num mundo hostil à fé cristã, era importante que os recém-convertidos tomassem posição lado a lado com os discípulos de Cristo e se envolvessem imediatamente na vida total da comunidade cristã. Talvez um dos motivos por que o batismo com água não ocupa mais lugar de destaque em muitas igrejas seja por estar tão freqüentemente separado do ato da conversão. O batismo é mais que ser obediente ao mandamento de Cristo. Relaciona-se com o ato de se tornar seu discípulo. Historicamente, são três as formas principais de batismo: a imersão, a afusão (derramamento) e a aspersão. A maioria dos estudiosos do Novo Testamento concorda que o significado essencial do verbo baptizõ é “imergir”, ou “submergir”. Um dos documentos cristãos mais antigos, fora do Novo Testamento, o Didaquê, registra as primeiras instruções conhecidas que permitem o batismo por outro método que não seja a imersão. Depois de oferecer instruções pormenorizadas para o batismo – deveria ser realizado em “água corrente” ou, caso não houvesse, deveria ser utilizada água fria (e, como derradeira alternativa, água morna); deveria empregar a fórmula trinitariana, etc. – o Didaquê aconselha que, não havendo água suficiente para a imersão, deve-se “derramar água na cabeça três vezes, ‘em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo’“. A aspersão começou a ser usada já no século III, mormente nos casos de batismos clínicos (para aqueles já próximos da morte e que desejavam o batismo cristão). Embora a imersão seja o modo geralmente aceito entre os evangélicos (inclusive os pentecostais), talvez ocasiões incomuns aconselhem o uso de outro método, como ao se batizar uma pessoa de idade avançada ou fisicamente incapaz. O método jamais deverá tornar-se mais importante que a identificação espiritual com Cristo na sua morte e ressurreição, que é simbolizada pelo batismo. Uma questão que tem levado a muitas controvérsias, na história do Cristianismo, diz respeito aos candidatos ao batismo. Deve a Igreja batizar os bebês e filhos pequenos dos seus membros, ou somente os que crêem, ou seja: os que de modo consciente e racional podem fazer a decisão de aceitar a Cristo? É uma questão complexa, e boa parte do problema tem sua origem na dúvida entre ser o batismo um sacramento ou uma ordenança. O próprio ato em si mesmo transmite graça (sacramento) ou simboliza a graça já transmitida (ordenança)? Desde os primeiros pais da Igreja, argumentos têm sido levantados a favor e contra o batismo infantil. No século III, por exemplo, Orígenes asseverou que “a Igreja recebeu uma tradição que ordena batizar até mesmo as criancinhas“. Ao mesmo tempo, porém, Tertuliano argumentou contra o batismo de crianças: “Por que a idade da inocência se apressa para obter a remissão dos pecados?” Tertuliano declarou, ainda: “Deixe, portanto, que venham depois de mais crescidos, e então poderão aprender e ser ensinados quando devem vir; deixe-os tornar-se cristãos quando tiverem a capacidade de conhecer a Cristo“. A maioria das declarações feitas pelos primeiros pais da igreja sobre a questão não são suficientemente explícitas para determinar com certeza as atitudes da Igreja antiga. Muitos dos argumentos usados pelas duas partes envolvidas são baseados no silêncio e na conjectura. Desde os tempos medievais, cristãos têm praticado o batismo de crianças. A prática tem sido usualmente justificada por três argumentos principais. O primeiro é a sugestão de ser o batismo de crianças o equivalente neotestamentário da circuncisão do Antigo Testamento. Nesta condição, é considerado um rito de admissão na comunidade pactual dos crentes e concede aos batizados todos os direitos e bênçãos das promessas da aliança. Embora o paralelo pareça razoável, falta-lhe apoio bíblico sólido. É certo que a Bíblia não está substituindo o batismo pela circuncisão, em Gálatas 6.12-18. O segundo argumento em apoio ao batismo infantil é o apelo aos batismos de “famílias” na Bíblia, a que Joachim Jeremias chama fórmula oikos. Por exemplo: textos como Atos 16.15 (a casa de Lídia) e 16.33 (a casa do carcereiro filipense) e 1 Coríntios 1.16 (a casa de Estéfanas) significam, segundo se infere, que pelo menos algumas dessas famílias incluíam crianças pequenas entre os batizados. De novo, trata-se em grande medida de um argumento do silêncio, baseado mais em conjecturas do que no que é declarado. Poderíamos inferir, com igual probabilidade, que os leitores bíblicos teriam entendido que os batismos de famílias inteiras incluíam somente os que pessoalmente haviam aceitado Cristo como Salvador, pois todos “creram” e todos “se alegraram” (At 16.34). Um terceiro argumento freqüentemente empregado é o do pecado original. A criança nasce com a culpa e precisa do perdão, que vem por meio do batismo. Essa idéia, entretanto, baseia-se em grande parte na teoria de que os seres humanos herdam biologicamente o pecado (por contraste ao pecado a eles imputado de modo representativo) e que o batismo tem o poder de realizar uma espécie de regeneração sacramental. No tocante à remissão do pecado original pelo batismo, Oliver Quick observa, com certa sagacidade: “Pelo menos dentro daquilo que a experiência consegue demonstrar, as tendências pecaminosas ou defeitos espirituais de uma criança batizada e de uma não batizada são bem semelhantes entre si“. Conforme já foi sugerido, a maioria dos que sustentam ser o batismo uma ordenança, e não um sacramento, acredita que o batismo deve ser ministrado apenas aos crentes nascidos de novo. E note-se que até mesmo alguns dos teólogos não-evangélicos de maior destaque no tempos modernos, que geralmente sustentam uma teologia sacramentalista, também têm rejeitado a prática do batismo infantil. O batismo significa uma grande realidade espiritual (a salvação) que tem revolucionado a vida do crente. Mesmo assim, o símbolo em si mesmo não deve ser elevado ao nível daquela realidade superior. A Ceia do Senhor Seguindo as instruções dadas por Jesus, os cristãos participam da Comunhão em “memória” dEle (Lc 22.19,20; 1 Co 11.24,25). O termo traduzido por “lembrança” (gr. anamnêsis) talvez não signifique exatamente o que o leitor está imaginando. Hoje, lembrar-se de alguma coisa é pensar numa ocasião passada. O modo neotestamentário de entender anamnêsis é exatamente o inverso: significa “transportar uma ação enterrada no passado, de tal maneira que não se percam a sua potência e a vitalidade originais, mas sejam trazidas para o momento presente“. Semelhante conceito é refletido até mesmo no Antigo Testamento (cf. Dt 16.3; 1 Rs 17.18). Na Ceia do Senhor, talvez possamos sugerir um tríplice sentido de lembranças: passado, presente e futuro. A Igreja se reúne como um só corpo à mesa do Senhor, relembrando a sua morte. Os próprios elementos usados de modo simbólico na Comunhão representam o derradeiro sacrifício de Cristo, no qual Ele entregou seu corpo e sangue para redimir os pecados do mundo. Existe ainda um sentido bem presente, o convívio espiritual com Cristo à sua mesa. A Igreja vem proclamar não um herói morto, mas um Salvador ressuscitado e vencedor. A expressão: “mesa do Senhor” sugere estar Ele presente como o verdadeiro anfitrião, aquele que transmite o sentido de terem os crentes, nEle, segurança e paz (ver Sl 23.5). Finalmente, há um sentido futuro neste relembrar, sendo que a comunhão da qual o crente agora participa com o Senhor não é o ponto final. Neste sentido, a Ceia do Senhor tem uma dimensão escatológica. Ao participarmos dela, antecipamos a alegria pela sua segunda vinda e pela reunião da Igreja com Ele para toda a eternidade (cf. Mc 14.25; 1 Co 11.26). A comunhão com Cristo também denota comunhão com o seu corpo, a Igreja. O relacionamento vertical entre os crentes e o Senhor é complementado pela comunhão horizontal de uns com os outros. Amar a Deus está vitalmente associado com o amar ao nosso próximo (ver Mt 22.37-39). Uma comunhão tão perfeita com os nossos irmãos e irmãs em Cristo exige o rompimento de todas as barreiras (sociais, econômicas, culturais, etc.) e o ajustamento de qualquer detalhe que tenda a destruir a verdadeira união. Somente assim a Igreja poderá genuinamente participar (ou ter koinõnia) do corpo e sangue do Senhor e ser verdadeiramente um só corpo (1 Co 10.16,17). Esta verdade é vividamente ressaltada por Paulo, em 1 Coríntios 11.17-34. Uma ênfase importante do apóstolo nessa passagem é o exame que os crentes devem fazer da sua conduta e motivos espirituais antes de participar da Ceia do Senhor – levando em conta sua atitude para com o próprio Senhor e também para com os demais membros do corpo de Cristo. Por ser a Ceia do Senhor uma verdadeira comunhão de crentes, a maioria das igrejas, nas tradições pentecostais e evangélicas, praticam a comunhão aberta. Significa que todos os crentes nascidos de novo, independente das suas diferenças menos relevantes, estão convidados a se reunir com os santos em comunhão com o Senhor à sua mesa. Embora a maioria dos crentes concorde que o Senhor está presente à sua mesa, sua presença é interpretado de diferentes maneiras. A maioria dos cristãos harmoniza seus pontos de vista sobre este assunto com uma entre estas quatro tradições: católica romana, luterana, zuingliana e calvinista (reformada). Cada uma destas será considerada resumidamente. A doutrina católica romana, oficialmente adotada no Quarto Concílio Laterano (1215) e reafirmada no Concílio de Trento (1551), é chamada transubstanciação. Este posicionamento teológico ensina que, quando o sacerdote abençoa e consagra os elementos – o pão e o vinho – ocorre uma mudança metafísica, e modo que o pão é transformado no corpo de Cristo, e o vinho, no seu sangue. O termo “metafísica” é usado porque a Igreja Católica ensina que características como a aparência e o sabor dos elementos (ou os “acidentes”) permanecem os mesmos, mas que a essência interior, a substância metafísica, foi transformada. Fazem uma interpretação muito literal das palavras de Jesus: “Isto é o meu corpo… Isto é o meu sangue” (Mc 14.22-24), os católicos acreditam que a totalidade de Cristo está plenamente presente dentro da substância dos elementos. Como conseqüência, aquele que participa da hóstia consagrada está recebendo expiação dos pecados venais, ou seja: dos pecados perdoáveis (por contraste aos pecados mortais). Uma segunda posição teológica provém dos ensinos de Martinho Lutero. Celebrando sua primeira missa como jovem sacerdote católico, Lutero chegou às palavras que proclamavam que um novo sacrifício de Cristo estava sendo apresentado: “Oferecemos a Ti, o Deus vivo, verdadeiro e eterno“. Lutero, segundo suas próprias palavras, ficou totalmente estupefato e aterrorizado… Quem sou eu, para levantar meus olhos à Majestade divina, ou erguer minhas mãos contra Ele? … será que eu, um mísero pigmeu, vou dizer: “Quero isso, peço aquilo?” Pois eu sou pó e cinzas, e cheio de pecado, e estou falando ao Deus vivo, verdadeiro e eterno. Reconhecendo que nenhum ser humano tem o poder sacerdotal para levar a efeito a mudança do pão e do vinho para o corpo e o sangue de Cristo, Lutero estava a caminho de um rompimento final com a Igreja Católica Romana, juntamente com sua doutrina da transubstanciação. Embora Lutero rejeitasse outras facetas da doutrina católica a respeito da Ceia do Senhor, não rejeitou totalmente a idéia de que o corpo e o sangue de Cristo estivessem presentes. Lutero ensinava que o corpo e o sangue de Cristo estão “com, dentro de e abaixo de” os elementos do pão e do vinho, doutrina esta que posteriormente veio a ser chamada consubstanciação. Talvez possamos dizer que esta teoria, assim como a doutrina católica da transubstanciação, continua sendo altamente sacramental e ainda entende por demais literalmente as palavras figuradas de Cristo a respeito do seu corpo e sangue. Um contemporâneo de Lutero que divergia dele na questão da presença de Cristo na Comunhão era Ulrich Zuínglio. A posição zuingliana é mais conhecida hoje como teoria memorial. Enfatiza que a Comunhão é um rito que comemora a morte do Senhor e a sua eficácia para o crente. Neste sentido é um sinal que aponta de volta para o Calvário. Zuínglio rejeitava qualquer noção da presença física de Cristo à sua mesa (quer transformada nos elementos, quer junto com os elementos). Ensinava, pelo contrário, que Cristo estava espiritualmente presente para os da fé. Muitos dos seguidores de Zuínglio eram tão fervorosos na sua rejeição à idéia da presença física de Cristo que, com efeito, repudiavam até mesmo a idéia de Cristo estar espiritualmente presente no culto da Comunhão. Por essa razão, muitos seguidores desse conceito tendem ressaltar que a Ceia do Senhor é uma cerimônia comemorativa na qual o crente relembra a obra de Cristo na expiação. A quarta opinião teológica principal a respeito da Ceia do Senhor é a calvinista, ou reformada. Assim como Zuínglio, João Calvino rejeitava totalmente a idéia de Cristo estar fisicamente presente nos elementos ou com eles. Mais que Zuínglio, porém, Calvino enfatizava grandemente a presença espiritual de Cristo à sua mesa. Entendia que se tratava de uma presença dinâmica (semelhante ao significado do termo grego anamnêsis) mediante o poder do Espírito Santo. A opinião teológica reformada ressalta que a eficácia da morte sacrificial de Cristo é aplicada e tomada relevante ao crente que participa da Comunhão com uma atitude de fé e confiança em Cristo. Além dessas quatro opiniões concernentes à Ceia do Senhor, muitas modificações e combinações entre elas são sustentadas pelos cristãos contemporâneos. Esse fato fica especialmente evidente dentro dos movimentos pentecostais e carismáticos. O entendimento teológico de muitos dos seus membros tem sido grandemente influenciado pela antiga associação com organizações eclesiásticas mais tradicionais ou litúrgicas. É provável que a maioria dos pentecostais se sinta teologicamente mais à vontade com as posições expressas por zuinglianos ou reformados. Seja como for, todos os cristãos hoje devem levar a sério a ênfase e a instrução bíblicas sobre as duas ordenanças – o batismo nas águas e a Ceia do Senhor – e regozijar-se porque o seu significado continua sendo tão relevante e aplicável como o era para a Igreja do Novo Testamento.
Fonte: Teologia Sistemática, CPAD. Stanley M. Horton
- Nenhum comentário no momento - |
|---|
| Desde 3 de Agosto de 2008 |
|---|
